-----------------------------------------------------------------------------
Excelentíssimo Senhor
Presidente do Tribunal Constitucional
Excelência
Os Deputados à Assembleia da República abaixo assinados vêm, nos termos do disposto nos artigos 281.º, n.º1, alíneas a) e b) e n.º 2, alínea f), da Constituição da República Portuguesa e dos artigos 62.º e 66.º, da Lei O. F. P. do Tribunal Constitucional, requerer a
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
COM FORÇA OBRIGATÓRIA GERAL
DA
LEI 16/2007, DE 17 DE ABRIL,
que estabelece a “Exclusão da Ilicitude nos casos de interrupção voluntária da gravidez”,
nos termos e com os fundamentos seguintes:
1. Na convicção de que a Lei do Aborto (Lei 16/2007, de 17 de Abril) se traduzirá na introdução de profundas modificações na sociedade e no sistema jurídico português, o que poderá vir a ter reflexos negativos noutras leis e na sua aplicação jurisprudencial, mas que, sobretudo, se não apresenta conforme com a Constituição (independentemente da opinião acerca do mérito político das soluções vertidas no referido diploma), é o desejo de ver formulado, so
O Direito é um pilar, através do qual, e partindo da realidade sociológica, científica, técnica e ética, é construída toda uma estrutura organizada de princípios e determinações normativos que hão-de responder aos desafios colocados e, simultaneamente, traçar um rumo para a sociedade que deverá reger.
É, igualmente, o reconhecimento da no
Por fim, numa circunstância em que o Estado de Direito e a função de Deputado se encontram tão controvertidos, não ignorar, ou olvidar o eventual confronto com a Lei Fundamental a que o diploma em apreço se presta, corresponderia, segundo os ora Requerentes, ao comprometimento da dignidade dessa mesma função.
Em todo o Mundo, o debate sobre a legitimidade de uma lei que permita o aborto (aqui chamado IVG) ou que o não puna, é factor de divisão na sociedade, de combate político e de reflexão ética, quer nos países onde este é livre, quer nos países onde o aborto é crime.
A ideia da legalização do aborto surge acoplada à contracepção que, nos anos 30 e 40 do século XX, invadiu a sociedade ocidental, com fins, exclusivamente, de controle da natalidade.
“Poucos recursos, muitas pessoas …”: eis o Malthusianismo, revisitado.
O aborto era, assim, o “remédio” para a falibilidade da contracepção.
Além disso, era uma bandeira que alguns movimentos políticos fizeram sua, em nome do direito à autodeterminação sexual da mulher, do direito à saúde reprodutiva da mulher, do direito à emancipação da mulher, do direito ao acesso ao mercado de trabalho da mulher, etc..
Hoje, a nível mundial, a questão não está resolvida e cada vez mais as sociedades se movimentam em sentido inverso ao dos idos anos 60 e 70 do século passado.
Em primeiro lugar, porque a ciência e a técnica mostram claramente que no aborto está em causa uma vida humana; em segundo lugar, porque a pirâmide demográfica está hoje invertida; em terceiro lugar, porque se verifica que a mulher não carece do aborto para ser titular daqueles apregoados direitos; em quarto lugar, porque a contracepção é quase infalível e, por fim, porque as sociedades que o experimentam sabem que o aborto além de eliminar uma vida humana, destrói também uma mulher/mãe, um pai, uma família e uma sociedade.
É em função deste juízo que, hoje, não encontramos legislações onde o aborto exista como um direito absoluto.
O aborto é, por isso, apenas admitido em circunstâncias delimitadas pela lei e como última “ratio” para uma situação dramática e devidamente reconhecida.
3. Em Portugal, o debate sobre o aborto leva já mais de 20 anos e, neste tempo, ganhou-se a consciência social e política de que o tema é de tal forma fracturante, violentador de certas consciências e com consequências sociais tais, que a larga maioria política representada no Parlamento (PS e PSD) tem entendido que este não está mandatado para, por si só, alterar a lei.
Foi esse o entendimento que levou a considerar, já em 1998, que só por via de Referendo a lei poderia ser alterada.
Em 1998, o Referendo não foi vinculativo, embora a maioria dos votantes tivesse optado pelo “Não”.
A questão não ficou, então, resolvida precisamente por essa razão: por não ter sido vinculativo.
Ou seja: o Referendo não era válido, tendo sido retiradas as consequências legais do disposto no artigo 115.º n.º1 e n.º11 da C.R.P..
Só esta razão pode justificar que, 9 anos depois, fosse repetido o Referendo.
Os partidos posicionaram-se durante estes 9 anos e os dois maiores Partidos (PS e PSD), a que se juntaram o BE e o CDS, definiram que o Referendo era condição necessária à alteração da Lei do Aborto.
No PS, na campanha para a eleição directa do Secretário-Geral do Partido, em que venceu José Sócrates, este era o único candidato a defender o Referendo como condição para alterar a Lei do Aborto, tendo ganho, esmagadoramente, essa eleição.
No programa eleitoral das legislativas de 2005, o PS reafirmou esse mesmo propósito.
4. Em
Dispositivo que encontra no art. 115.º n.º1, da C.R.P. o seu enunciado principal: “Os cidadãos eleitores … chamados a pronunciar-se directamente, a título vinculativo através de Referendo …”.
Portugal é um Estado de Direito.
Por isso, este dispositivo constitucional há-de ter algum valor.
Na verdade não há normas inúteis e, por maioria de razão, a C.R.P. não tem normas inúteis.
Jorge Miranda, em Anotação à CRP (edição de 2006) diz: “Trata-se de uma espécie de direito de veto conferido aos abstencionistas” (in C.R.P. Anotada, artigo 115.º).
Não pode, por isso, ignorar-se, hoje, o n.º11 do artigo 115.º da C.R.P..
Gomes Canotilho (in Direito Constitucional e Teoria da Constituição, pág. 246) afirma: “A vinculação do legislador à Constituição sugere a indispensabilidade de as leis serem feitas pelo órgão, terem a forma e seguirem o procedimento nos termos constitucionalmente fixados. Sob o ponto de vista orgânico, formal e procedimental, as leis não podem contrariar o princípio da constitucionalidade. A Constituição é, além disso, um parâmetro material intrínseco dos actos legislativos.
O princípio da conformidade dos actos do Estado com a Constituição é mais amplo que o princípio da constitucionalidade das leis. Ele exige, desde logo, a conformidade intrínseca e formal de todos os actos dos poderes públicos (em sentido amplo: Estado, poderes autónomos, entidades públicas) com a Constituição (art. 3.º/2). Mesmo os actos não normativos directamente densificadores de momentos políticos da Constituição – actos políticos – devem sujeitar-se aos parâmetros constitucionais e ao controlo (político ou jurídico) da sua conformidade com as normas da Constituição (cfr. art. 3.º/3)”.
5. É regra basilar do sistema democrático que o poder resulta da vontade da maioria do povo.
“Verificando-se uma forte abstenção, a vontade popular expressa não deve ser considerada como representando a vontade maioritária dos cidadãos” (in Benedita Urbano, “O Referendo”, Página 91).
É o que a doutrina chama o perigo das conjunturas pontuais ditadas por diferentes circunstâncias e que, tendo uma expressão reduzida no universo eleitoral (no nosso caso apenas ¼ dos eleitores, ficando de fora desta decisão ¾ dos possíveis votantes), em matérias desta dignidade e importância, não podem sustentar uma alteração ao sistema vigente.
Não se trata de um acto de eleição para o exercício, limitado no tempo, de um qualquer cargo político.
Trata-se de uma “questão de especial relevância nacional” (art. 115.º da C.R.P.).
6. O “veto” dos abstencionistas, defendido por Jorge Miranda à proposta de alteração legislativa, foi também nos dois anteriores Referendos (Aborto/98 e Regionalização), defendido pelos então líderes dos dois maiores partidos.
Declararam, então, que a Lei só seria alterada se o Referendo fosse vinculativo.
Havia, ainda, a memória da alteração à C.R.P. de 1997 que introduziu este novo número ao seu artigo 115.º…
7. “De jure condendo”, pode discutir-se se se deve exigir uma tão ampla maioria de votantes (50%), sendo certo que outros sistemas exigem menos.
Mas, “dura lex, sed lex”.
Todos conheciam, quando foi convocado o Referendo, quais as regras ditadas pela C.R.P..
Todos se submetem à lei e o, hoje, partido maioritário no Parlamento baseou toda a sua campanha eleitoral – quanto à questão do aborto – contra a abstenção, porque sabia ser esta batalha que tinha de vencer.
A abstenção não tem (como não tinha) o mesmo sentido caso o “não” ganhe ou caso o “sim” ganhe.
Se o “não” ganhar, esse junta-se ao sentido de “veto” já referido (aconteceu em 1998).
Mas o inverso não é verdadeiro.
8. Acresce que, ao admitir-se esta vinculação ao resultado do Referendo, abrir-se-ia um precedente gravíssimo.
Seriam, assim, todos os Referendos válidos?
Com 15% de votos?
As conjunturas ditariam, pois, mais do que a vontade amadurecida de anos e anos de construção civilizacional!
Importa, também, olhar à doutrina de Gomes Canotilho (ob. cit., pág. 247): “O princípio fundamental do Estado de Direito Democrático não é o de que o que a Constituição não proíbe é permitido, mas, sim o de que os órgãos do estado só têm competência para fazer aquilo que a Constituição lhe permite (cfr. art. 111.º/2)”.
9. Nem o “sim” nem o “não” podem fazer sua a vontade dos abstencionistas.
Dizer que quem se abstém quer deixar passar a lei, é mais arbitrário do que admitir que quem se abstém entende que não há razão para alterar a lei existente.
Num estudo feito por André Freire e Pedro Magalhães, in “Abstenção eleitoral em Portugal” (edição apoiada pela Assembleia da República – Junho de 2002) diz-se que, nos Referendos (de 1998), a abstenção pode “estar relacionada com a existência de um conflito entre a indicação de voto de determinado partido e a vontade dos eleitores/simpatizantes desse partido. Estes eleitores basicamente têm duas saídas: votar contra a indicação do partido ou abster-se. A divergência entre as elites dirigentes de determinado partido, quanto à indicação de voto a dar aos seus eleitores, pode também levar àquele resultado, abstenção” (página 108 e 109).
Daí que tomar o Referendo como legitimador da lei “sub judice” é, quanto a nós, uma violação à CRP.
Na Assembleia da República, uma lei de valor reforçado ou uma lei orgânica não pode ser aprovada por ¼ dos deputados!!!
A representatividade das decisões, em democracia, fonte de legitimidade e capacidade para se imporem aos destinatários, é uma exigência intrínseca do sistema.
Mais uma vez, detenhamo-nos no que afirma Gomes Canotilho (pág. 287, ob. cit.): “Da mesma forma que o princípio do Estado de Direito, também o princípio democrático é um princípio jurídico-constitucional com dimensões materiais e dimensões organizativo-procedimentais. Com efeito, a Constituição Portuguesa de 1976 respondeu normativamente aos problemas da legitimidade-legitimação da ordem jurídico-constitucional em termos substanciais e em termos procedimentais: normativo-substancialmente, porque a Constituição condicionou a legitimidade do domínio político à prossecução de determinados fins e à realização de determinados valores e princípios (soberania popular, garantia dos direitos fundamentais, pluralismo de expressão e organização política democrática); normativo-processualmente, porque vinculou a legitimação do poder à observância de determinadas regras e processos (Legitimation durch Verfahren). É com base na articulação das “bondades materiais” e das “bondades procedimentais” que a Constituição respondeu aos desafios da legitimidade-legitimação ao conformar normativamente o princípio democrático como forma de vida, como forma de racionalização do processo político e como forma de legitimação do pode.”.
11. Se o Referendo tivesse sido vinculativo com a vitória do “sim” o Parlamento deveria cumprir a vontade popular expressa.
Isto é, deveria consagrar o direito ao aborto por opção da mulher até às 10 semanas de gravidez.
E, como se defende em algumas declarações de voto do Acórdão 617/06, este Tribunal não teria, sequer, direito de fiscalizar a lei que a Assembleia da República viesse a fazer.
Porém tal não aconteceu.
Por isso, o Referendo não tem efeitos jurídicos.
12. Existem sistemas constitucionais que consagram o Referendo Consultivo.
Mas, não é esse o sistema constitucional português.
Não existe a figura do Referendo Consultivo na C.R.P. (v.g., Maria Benedita Urbano, in “O Referendo”, pág. 90 – Coimbra Editora).
Os órgãos de soberania estão sujeitos ao Princípio da Legalidade.
Logo, não se pode transformar o Referendo do artigo 115.º da C.R.P. num Referendo Consultivo.
Aliás, é clara a Lei Fundamental ao consagrar o regime do Referendo como sendo de convocação facultativa e tendo efeito vinculativo.
Não existem, na C.R.P., efeitos consultivos do Referendo (“Os cidadãos eleitores recenseados no território nacional podem ser chamados a pronunciar-se directamente, a título vinculativo, através de Referendo …” - Artigo 115.º n.º1 da Constituição).
13. Dos Princípios da Legalidade, e do respeito pelo Estado de Direito, importa retirar as consequências, como escreve Gomes Canotilho: “… a necessidade de uma legitimação democrática efectiva para o exercício do poder (o poder e exercício do poder derivam concretamente do povo), pois o povo é o titular e o ponto de referência dessa mesma legitimação – ela vem do povo e a este se deve reconduzir; a soberania popular – o povo, a vontade do povo e a formação da vontade política do povo – existe, é eficaz e vinculativa no âmbito de uma ordem constitucional materialmente informada pelos princípios da liberdade política, da igualdade dos cidadãos, de organização plural de interesses politicamente relevantes, e procedimentalmente dotada de instrumentos garantidores da operacionalidade prática deste princípio (cfr. CRP, art. 2.º e 10.º; (5) a constituição, material, formal e procedimentalmente legitimada, fornece o plano da construção organizatória da democracia, pois é ela que determina os pressupostos e os procedimentos segundo os quais as “decisões” e as “manifestações de vontade do povo” são jurídica e politicamente relevantes” (Ob. Cit., pág. 292).
Assim, e no cumprimento do estatuído na C.R.P., o resultado eleitoral do último Referendo sobre o aborto não permite alterar a respectiva Lei (ou o Código Penal), por inconstitucionalidade formal (violação do disposto no artigo 115.º, n.º1 e n.º11, da C.R.P.).
14. O Parlamento tem legitimidade jurídica para fazer leis.
A decisão de convocar o Referendo é da Assembleia da República e é facultativa.
A Assembleia da República pode fazer uma Lei do Aborto.
Pode alterar o Código Penal.
Mas fá-lo por legitimidade parlamentar.
Contudo, no caso do aborto, a maioria dos deputados não está materialmente mandatada pelo Povo para alterar a respectiva Lei.
Porque os dois maiores partidos, com assento parlamentar, nos respectivos programas eleitorais declararam submeter esta matéria à deliberação directa do Povo.
Não pediram ao Povo este poder.
O mandato que lhes foi conferido não contém, por isso, o direito a decidir em matéria do aborto.
E bem!
Isto é, a Lei 16/2007 não colheu legitimidade referendária.
E, apesar de se tratar de uma Lei que gerou uma enorme polémica, que levou à realização de dois Referendos e que continua a ser objecto de polémica social, essa Lei – repetimos – foi publicada sem qualquer Preâmbulo.
Na verdade, o legislador não tem uma única palavra de apresentação da Lei para a introduzir.
Porquê?
Na mensagem enviada à Assembleia da República, o Presidente da República afirmou: “O Decreto nº 112/X foi aprovado na sequência do referendo sobre a interrupção voluntária da gravidez que se realizou no dia 11 de Fevereiro de 2007, o qual não logrou obter a participação de votantes necessária para que o mesmo se revestisse, nos termos do artigo 115.º, n.º 11, da Constituição, de carácter juridicamente vinculativo.
Não se encontrando a Assembleia da República juridicamente vinculada aos resultados do citado referendo, entendeu todavia o legislador… fazer aprovar o Decreto que agora me foi submetido a promulgação”.
A Lei 16/2007, de 17 de Abril, apenas parte da putativa “legitimidade” parlamentar.
Mas esta não se verifica, de facto.
Senão, vejamos!
16. Após o povo português ter respondido, em Referendo, como acima se referiu, será legítimo, ao Parlamento, dentro da mesma legislatura, alterar a Lei?
O que não se obteve pelo voto popular, poderá, assim, ser imposto por decisão parlamentar?
A representação democrática significa, em primeiro lugar, a autorização dada pelo Povo a um órgão soberano, institucionalmente legitimado pela Constituição (criado pelo poder constituinte e inscrito na Lei Fundamental), para agir, autonomamente, em nome do Povo e para o Povo.
A aprovação da Lei 16/2007, à revelia do voto vinculativo do Povo, fere, por isso, a soberania popular que o art. 2 da C.R.P. consagra.
17. Os Partidos com maioria na Assembleia da República comprometeram-se a só alterar a Lei em causa por Referendo.
As regras do Referendo estão, à partida, fixadas na C.R.P..
A soberania reside no Povo (art. 2.º e 3.º da C.R.P.), o qual exerce a soberania através do sistema político e eleitoral ou, ainda, através da forma de democracia directa (referendo).
É, por isso, determinante o papel dos partidos políticos e o “pacto” que, através do respectivo programa, “celebram” com os eleitores.
“Os Deputados são eleitos por sufrágio directo e universal, representam todo o país, e com o sistema de representação proporcional à Assembleia têm acesso às grandes correntes de opinião dos cidadãos através dos partidos que sufragam” (in J. Miranda, Constituição Portuguesa Anotada – art. 147.º).
Para o exercício da soberania, o Povo tem direito a conhecer o programa eleitoral dos partidos, o que lhe permite escolher as decisões mais relevantes que, em seu nome, hão-de ser tomadas (mandato) pelos eleitos.
Este mandato contém um grau de discricionariedade que todos os sistemas políticos reconhecem.
No entanto, estamos no âmbito de matéria de “especial relevância nacional”, o que pressupõe um amplo debate e compromissos políticos claros – a Lei só por referendo será alterada.
De que vale a exigência do n.º11 do art. 115.º da C.R.P.?
Onde está o compromisso eleitoral assumido pela maioria dos partidos, de só alterar a Lei por meio de Referendo?
Afigura-se, por isso, uma violação do disposto nos artigos 1.º a 3.º da C.R.P.: “Portugal é uma República … baseada na vontade popular” e “baseada na soberania popular” (3.º, n.º1); “A soberania … reside no povo que a exerce segundo as formas previstas na Constituição”; art. 108.º, “O poder político pertence ao povo e é exercido nos termos da Constituição”, e art. 109.º: “A participação directa e activa de homens e mulheres na vida política constitui condição e instrumento fundamental de consolidação do sistema democrático”, todos da C.R.P..
Note-se que só podem concorrer às eleições legislativas partidos políticos com um programa que é sufragado pelos eleitores.
A exigência de clareza de princípios é, assim, um elemento basilar da democracia.
Os eleitos recebem um mandato e exercem-no em nome e representação do Povo, em liberdade.
É certo que numa próxima eleição legislativa, para um próximo mandato, os partidos poderão – e deverão – declarar que será em sede da Assembleia da República que irão apresentar este ou outro projecto de lei para a liberalização do aborto.
Nada os impede.
E assim, ficarão legitimados para o fazerem.
Mas não nesta legislatura!
18. Por fim, o grande valor “consultivo” deste Referendo é a demonstração de que só 25% dos portugueses quer o aborto livre em Portugal.
E alguns dos votantes no “sim”, após a aprovação da Lei “sub judice”, dizem-se, hoje, enganados.
Estes factores, aliados à Lei que acaba de ser aprovada, e que, salvo melhor opinião, contraria, claramente, a fundamentação doutrinal e jurisprudencial que informa o Acórdão do Tribunal Constitucional que aprovou a pergunta do Referendo, implica que se volte a apreciar a conformidade material da Lei 16/2007, de 17 de Abril, com o ordenamento constitucional (artigo 24.º n.º1, da C.R.P. – “A vida humana é inviolável”).
Ou será que 25% dos portugueses podem alterar o artigo 24.º n.º1 da C.R.P.?
19. O precedente que uma decisão, que viabilizasse esta Lei, viria a constituir, para o Estado de Direito, seria, seguramente, uma brecha com dimensões incalculáveis.
A limitação do poder, dentro do Estado Democrático, exige rigor e cumprimento do Princípio da Legalidade.
A euforia de uma conjuntura, elevada a lei, é, seguramente, um retrocesso numa sociedade que se pretende, cada vez mais, responsável, coesa e apta ao progresso.
20. Seja como for, embora na sequência de um Referendo sobre a Interrupção Voluntária da Gravidez, realizado a 11 de Fevereiro de 2007, o qual não logrou obter a participação de votantes necessários para que o mesmo se revestisse de carácter juridicamente vinculativo, a Assembleia da República aprovou a Lei 16/2007, de 17 de Abril.
Ora, uma tal Lei consagra diversas soluções inconstitucionais, afectando designadamente:
a) a protecção da vida humana intra-uterina;
b) a protecção da família;
c) o direito à igualdade na parentalidade ou, ainda,
d) a objecção de consciência dos profissionais envolvidos no sistema nacional de saúde.
Dessa mensagem ressalta que a Lei deve submeter-se aos princípios constitucionais, nomeadamente da dignidade da vida humana e sua protecção, consagrada no artigo 24.º da C.R.P..
Parece existir, contudo, uma ambiguidade entre a referida mensagem e o texto da Lei promulgada, cujas consequências jurídicas não se vislumbram e que também concorrem para este pedido de apreciação da Lei pelo Tribunal Constitucional.
Importa, por isso, apontar alguns desses pontos!
22. Diz o Presidente da República: a regulamentação exigida na “alínea b) do n.º4 do art. 142.º, do Código Penal, através de Portaria é uma opção que se afigura questionável, dada a extrema sensibilidade da matéria em causa” (fim de citação).
Há-de perguntar-se porque será questionável.
A Portaria é um acto de natureza legislativa (cfr. art.112º, n.º5)?
Tem esse Tribunal Constitucional vasta jurisprudência sobre a matéria (vd., Ac. 189/85, 384/87, 56/95, entre outros).
A “Portaria” não tange com matérias de Direitos Fundamentais?
Não dependerá dela o cumprimento, por parte do Estado, do disposto no art. 67.º n.º1 da C.R.P.?
Dessa Portaria sairá cumprido, entre outros, o dever do Estado de protecção da vida humana e da família.
Como será tutelada a liberdade da mulher?
Essa “Portaria” não viola o disposto nos art. 165.º n.º1 al. b) e 112.º,nº5 da C.R.P.?
23. Diz o Presidente da República: que o médico “possa questionar sobre o motivo pelo qual decidiu interromper a gravidez” a mulher que o procura.
Onde está prevista esta exigência na Lei 16/2007?
Pode uma Portaria vir impor uma restrição a um direito que a Lei aprovada pela Assembleia da República não prevê?
Porém, se a Lei não exige que a mulher alegue os fundamentos pelos quais procura o aborto, como pode o Estado exercer o seu papel social de protecção à maternidade e à vida humana carenciada?
A Lei agora aprovada deve conter esta exigência por imperativo constitucional?
A omissão não fere a Lei 16/2007, quando confrontada com os artigos 24.º, 67.º e 68.º da C.R.P.?
24. Onde está previsto o “papel do progenitor masculino na decisão do aborto”?
Como está garantido, pelo Estado, o exercício da maternidade e paternidade consciente mencionado, no art. 67.º al. d) da C.R.P.?
Ao omiti-lo, entende-se que a Lei 16/2007 está a violar aquele imperativo constitucional.
25. Refere ainda a mensagem do Presidente da República, de forma muito precisa: “A objecção de consciência prevista no n.º2, do art. 6.º, da Lei 16/2007, parece assentar no pressuposto, de todo em todo indemonstrado, e ademais eventualmente lesivo, da dignidade dos médicos…”.
Não estará esta Lei a ofender valores constitucionalmente consagrados, como seja o reconhecido direito ao bom-nome e à dignidade, a todos os homens?
E, que ao “lesar” a “dignidade” de uma classe profissional, lesa todos e cada um dos homens que exerce tão nobre profissão – os médicos.
A objecção de consciência, fixada de forma genérica e abstracta, constitui, entre outras, uma violação do Princípio Deontológico e que colhe razão em sede de Direitos Fundamentais, porque é reconhecida ao médico o exercício desse direito casuisticamente.
Isto é, em função das circunstâncias que lhe são colocadas.
Só assim o médico exerce “em consciência” a objecção (ou não): “A exclusão dos médicos objectores de consciência das consultas previstas na alínea b) do nº 4 do art. 142º do Código Penal, prévias ao aborto, é gravemente ofensiva do princípio da igualdade (art. 13º da CRP): porque é que os médicos objectores ficam assim inibidos, em face dos médicos que praticam o aborto?
Os médicos que defendem a protecção da vida humana em todos os casos não estarão porventura mais próximos da principiologia do art. 24.º da CRP do que os médicos que, por efectuarem abortos, estarão mais inclinados a desvalorizar as razões que desaconselham a sua prática?
O citado nº 2 do art. 6º da Lei 16/2007 é, pois, um caso de tratamento discriminatório, violador dos arts. 13º, 25º (integridade pessoal dos médicos) e 26º (bom nome e reputação dos médicos) da Constituição.”
Como já se disse, os médicos objectores não podem ser desigualmente tratados, no que toca ao acesso a cargos em estabelecimentos públicos, etc.
Como é duvidoso que ser anti-aborto implique o estatuto da objecção de consciência, porque daí seguir-se-ia que quem nada diz teria de ser considerado como “abortista”.
Este argumento implica olhar com atenção para o estatuto de objector de consciência: vale essencialmente se a objecção implicar requisitos prévios de afirmação dessa objecção e não possa ser decidida “na hora”.
É, por isso, de duvidosa constitucionalidade, o disposto no art. 6.º n.º2, face ao disposto nos arts. 25.º n.º1 e 26.º da CRP e à Declaração Universal dos Direitos do Homem e Convenções Internacionais, aplicáveis por força do art. 8.º da CRP.
26. Também assim a publicidade comercial da oferta de serviços da interrupção da gravidez.
Tange com o dever que cabe, por imperativo constitucional, ao Estado, de protecção da vida humana e da família.
Aliás, sendo um aborto um acto médico, está hoje proibida a sua publicidade em vastíssima legislação nacional.
Por ser a publicidade uma actividade que potencia a procura.
O que contraria a função social de dissuadir do aborto, imposta ao Estado, violando-se, assim, o art. 67.º da CRP.
27. Mas não são só estas as questões que a Lei 16/2007 levanta de conformidade com a C.R.P..
Dispõe a alteração ao art. 142.º n.º1 al. e) do Código Penal:
“Não é punível quando:
e) For realizada, por opção da mulher, nas primeiras 10 semanas de gravidez”.
O aborto, aqui chamado interrupção voluntária da gravidez, é o acto pelo qual se põe fim à vida de um ser humano em desenvolvimento intra-uterino.
Isto é, permite-se, assim, a violação da vida humana, que está a desenvolver-se.
Ora – nunca é demais repeti-lo – estatui o art. 24.º, n.º1, da C.R.P. “A vida humana é inviolável”.
Também assim esse Douto Tribunal (vd. Ac. 617/2006) tem reconhecido que o Ordenamento Jurídico Português confere protecção à vida humana desde a concepção (incluindo atribuição de direitos).
A Lei Fundamental da República Portuguesa não deixa quaisquer dúvidas sobre a indispensabilidade de uma base antropológica constitucionalmente estruturante do Estado de Direito (cfr. CRP, art. 1.º: “Portugal é uma República soberana baseada na dignidade da pessoa humana”; art. 2.º: “A República Portuguesa é um Estado de direito democrático baseada no respeito e na garantia de efectivação dos direitos e liberdades fundamentais”).
Nesta perspectiva, tem-se sugerido uma “integração pragmática” dos direitos fundamentais.
Em primeiro lugar, a afirmação da integridade física e espiritual do homem como dimensão irrenunciável da sua individualidade autonomamente responsável (CRP, arts. 24.º, 25.º e 36.º).
Em segundo lugar, a garantia da identidade e integridade da pessoa através de livre desenvolvimento da personalidade (cfr. a consagração explícita deste direito no art. 26.º da CRP, introduzido pela LC 1/97, e a refracção do mesmo direito no art. 73.º/2.º da CRP – v.g., pág. 248, Gomes Canotilho, ob. cit.).
Por isso, a alteração ao Código Penal que permite a uma mulher decidir da vida ou morte de um ser humano, sem que para tal invoque fundamentos, é deixar totalmente desprotegida a vida humana até às 10 semanas.
É conferir a um ser (Mãe) o direito a decidir da vida de outrem, ainda que por motivos fúteis.
Aos juristas cabe retirar todos os corolários da lei…
Ou será que, em função da alteração ao Código Penal, o art. 24.º n.º1 da C.R.P. terá de ser alterado passando a constar de “A vida humana é inviolável após as 10 semanas de gestação”?
Ou a lei ou a CRP: uma delas tem de estar errada.
Mas como a lei deve submeter-se à C.R.P., resta que deve ser feita a apreciação da conformidade do novo art. 142.º n.º1 al. e) do Código Penal com o disposto no art. 24.º n.º1 da Constituição.
Sobretudo, importa insistir em que se prevê um aborto “ad nutum”, discricionário, sem qualquer necessidade de justificação, quando a restrição a um direito fundamental como a vida, mesmo que pudesse ser admitida, tem sempre de ser devidamente justificada.
O aborto, por outras palavras, não pode nunca ser um direito (espaço de uma insindicável autonomia privada).
Por isso é extremamente importante que se faça o cotejo do sistema que temos com o sistema das indicações, pois só este se apresenta conforme com estas exigências.
28. Por outro lado, fruto de uma evolução civilizacional louvável, hoje, a parentalidade tem foros de igualdade, reconhecidos na C.R.P..
O princípio da igualdade (art. 13.º da C.R.P. e 36.º, nº3 e 5, 67.º e 68.º) fixado para o exercício da parentalidade, trespassa todo o direito constitucional no que a esta matéria tange.
Como são protegidos os direitos do Pai, que não quer ver violada a vida do seu filho?
Este direito absoluto e discricionário da Mãe sobre a vida do seu filho não tem, sequer, como limite a vontade do outro progenitor.
29. Por fim, essa mesma disposição legal tange com o art. 68.º n.º2: “A maternidade e paternidade constituem valores sociais eminentes”.
Estamos perante direitos indisponíveis.
Sem homens, sem mulheres não há sociedade, não há democracia.
Por isso, é necessário proteger o homem do próprio homem.
A dignidade humana, princípio estruturante do Estado de Direito, toma corpo na nossa ordem constitucional, através do reconhecimento e efectivação de normativos como os da inviolabilidade da vida e integridade humanas, em toda as suas dimensões, incluindo física, bem como da protecção da identidade pessoal.
A Lei 16/2007 constitui, de facto, um retrocesso civilizacional.
Reconhece que há seres humanos com mais direitos do que outros.
Seres humanos a quem é reconhecido o direito absoluto de disporem da vida de outro ser humano (até às 10 semanas de vida).
Também, assim, o art. 142.º n.º1, al. e) e n.º3 do Código Penal, quando confrontado com o art. 68.º da C.R.P., parece ser inconstitucional.
30. É hoje pacífico, na Jurisprudência do TC e na doutrina do Direito Constitucional, que a Constituição da República Portuguesa garante, consoante as teses, como bem objectivo ou como direito subjectivo, a vida humana intra-uterina, por força do seu art. 24º, nº 1, onde se afirma categoricamente que “a vida humana é inviolável”.
Consequência desta garantia é o reconhecimento, igualmente unânime, de que o Estado português está obrigado não só a abster-se de violar a vida humana pré-natal, como também a instituir formas destinadas à sua protecção.
Numa palavra, a vida intra-uterina não é, de acordo com a Constituição, matéria reservada à esfera privada dos progenitores, não podendo o Estado alhear-se da tarefa da sua salvaguarda.
No que respeita às formas de que pode revestir este dever de protecção, o legislador resolveu excluir a reacção penal como instrumento de tutela da vida humana pré-natal, até às 10 semanas de gestação.
Esta opção afigurou-se, aos olhos do Tribunal Constitucional (vd, Ac. 617/2006) como não inconstitucional, com base em dois argumentos principais: o reconhecimento de um direito de personalidade da mulher, concretizado na liberdade de optar em prosseguir ou não uma gravidez de acordo com o seu projecto de vida, e o princípio da necessidade da pena, na medida em que esta se relevaria desadequada, porque não impede a maior parte dos abortos clandestinos, e desproporcionada, porque demasiado gravosa para a mulher que não quer prosseguir a sua gravidez.
Do exposto resulta estarmos perante um confronto de bens jurídicos com dignidade constitucional.
De um lado, a vida humana pré-natal e, do outro, a personalidade e a liberdade da mulher.
Assim sendo, o que se pede ao legislador ordinário é que compatibilize, na medida do possível, estes dois bens constitucionais em confronto.
Ora, a solução encontrada pelo legislador satisfaz apenas uma das partes do conflito.
Ou seja: ao permitir a realização do aborto até às 10 semanas, com a condição de prévia consulta médica informativa, a Lei assegura a liberdade da mulher mas despreza, de forma constitucionalmente intolerável, o cumprimento do dever que vincula o Estado à protecção da vida humana do nascituro, o que importa analisar.
A consulta médica realiza somente – para além da certificação óbvia do período de gestação – dois deveres informativos.
Analisemo-los separadamente:
a) O médico deve dar a conhecer à mulher as condições de realização do aborto e consequências para a sua saúde (do cumprimento deste dever não resulta qualquer preocupação com a vida humana intra-uterina, mas antes, apenas, com a saúde da mulher) e
b) O médico deve dar a conhecer à mulher as condições de apoio que o Estado pode prestar à prossecução da gravidez e à maternidade (esta informação, por sua vez, pretende dar à mulher um instrumento para a sua decisão consciente, mas apenas subtilmente e de forma indirecta, se poderá daqui retirar a apresentação ou proposta de outro caminho, diferente do da interrupção da gravidez).
Em síntese, quanto à tutela da vida, o Estado limita-se a informar a mulher das condições de apoio que lhe pode prestar, concedendo-lhe três dias para que reflicta sobre a sua decisão.
A questão está em saber se não existem outros meios que, não “bulindo” com a liberdade de opção da mulher, a quem pertence sempre a última palavra, melhor protejam o valor da vida.
Em primeiro lugar, mesmo no quadro de uma consulta meramente informativa, deve exigir-se mais do Estado.
Desde logo, e à cabeça, que dê conhecimento à mulher das condições de apoio que instituições não estaduais prestam à prossecução da gravidez e à maternidade.
Não se vislumbra qualquer razão para distinguir os apoios de natureza estadual, dos outros, nem em que medida essa informação pode constranger a liberdade da mulher.
Sempre com a concordância das referidas entidades e com a especificação das ajudas que podem prestar, oferecer-se-ia à mulher mais um elemento relevante para a tomada da sua decisão consciente.
Depois, deve dar-se conhecimento à mulher do regime de adopção vigente em Portugal, dado ser esta uma solução que permite conciliar, em toda a linha, a liberdade da mulher que renuncia à maternidade e a vida da criança por nascer.
Mais: como sugerido na mensagem do Presidente da República à Assembleia da República, aquando da promulgação da Lei 16/2007, das informações relevantes, a prestar na consulta médica obrigatória, deve também constar uma imagem da ecografia do feto.
Esta informação, confrontando a mulher com a realidade da vida que nela existe, pode ser crucial para a sua tomada de decisão e não se vê em que medida possa limitar a liberdade de escolha da mulher.
Por último, o prazo mínimo de 3 dias afigura-se manifestamente insuficiente para uma reflexão cuidada acerca de um problema de contornos tão complexos.
Atendendo à dignidade constitucional da vida humana, não parece que a sua lesão irreversível possa ser compatibilizada com um prazo tão curto de reflexão.
Nem se percebe, fora dos casos de urgência ou iminência do decurso do prazo de 10 semanas, qual a vantagem que decorre de um regime com esta permissividade.
E como poderemos entender toda esta urgência, quando até na própria tutela do consumidor, se dá a este um direito ao arrependimento, consoante as hipóteses, de 7, 8 ou mesmo 15 dias?
Será que a decisão de eliminar um filho não se assumirá de muito maior importância?
31. Sem estas informações suplementares, resulta clara a violação do princípio da proporcionalidade, pelo menos em duas das suas vertentes.
Assim, e desde logo, porque a consulta informativa não é idónea à protecção do fim a que se destina – tutela da vida humana intra-uterina – e porque privilegia desnecessariamente um dos bens constitucionais em conflito – o valor da liberdade de escolha da mulher – em nada acautelando o outro dos valores em presença – a vida do feto.
Em segundo lugar, para além da consulta informativa, o dever de protecção da vida humana intra-uterina, ao qual, recordamos, o Estado português se encontra vinculado, não fica plenamente cumprido sem que a mulher grávida tenha acesso a um aconselhamento prestado por uma entidade diferente daquela que se propõe realizar a interrupção da gravidez.
O aconselhamento permitirá à mulher aceder a um apoio psicológico e afectivo que a ajudará a tomar, num período particularmente difícil da sua vida, uma decisão mais consciente e ponderada.
O conselho profissional de uma equipa de médicos ou assistentes sociais poderá animar a mulher de uma situação de desespero em que se encontra e para cuja solução só vislumbra uma única saída.
Sem a realização deste aconselhamento, o Estado português queda-se indiferente e neutro perante a ameaça à vida humana.
Ora, essa posição de neutralidade não é compatível com o dever de protecção da vida humana.
Diga-se também que o aconselhamento não poderá, em caso algum, significar a imposição de uma pressão psicológica sobre a mulher, mas apenas esclarecê-la da gravidade da sua decisão e das alternativas possíveis.
Nesta medida, é dever do Estado aconselhar a mulher a não realizar o aborto e a decidir pela preservação da vida.
32. Sabe-se, hoje, que o aborto constitui, para a mulher, uma chaga e uma fonte de doença gravíssima: o trauma pós-aborto.
Permitir que as mulheres corram este risco de doença para o resto da vida por um aborto, às vezes feito por falta de condições económicas ou sociais ou, meramente, por motivos fúteis ou ainda porque as mulheres são vítimas de maus-tratos familiares, é deixar totalmente desprotegido o direito à saúde que ao Estado cabe fazer cumprir e implementar.
Recorde-se, a título de exemplo, as políticas que hoje, por via deste dever constitucional atribuído ao Estado, estão em vigor com vista a eliminar os riscos de vida ou para a saúde das pessoas, de que são casos bem exemplificativos a circulação automóvel, o tabagismo, etc..
Trata-se de políticas que restringem a liberdade individual, atento o bem maior que é a saúde ou a vida.
Ao admitir o aborto nas condições fixadas nestas disposições legais – art. 142.º n.º4 al. b) do Código penal, coloca-se, também, em causa o disposto no art. 66.º n.º1 da C.R.P.: “Todos têm direito a um ambiente de vida humana, sadio…” bem como o disposto no art. 64.º n.º1 e n.º2, da al. b), também da nossa Lei Fundamental.
33. O aconselhamento que, mais ou menos exigente, existe em quase todos os países, como condição prévia ao aborto, é, na Lei 16/2007, declarado facultativo para a mulher.
Esquece-se o Pai do bebé, que poderia e deveria ser chamado ao aconselhamento a fim de, também ele, tomar a responsabilidade por aquele filho, ainda que a decisão última fosse da mulher.
O sistema assenta, não num aconselhamento pró-vida, como podemos testar no Direito Comparado, mas numa prestação puramente informativa.
Por isso, a primeira questão a suscitar é a de saber se isso basta para a concordância prática entre valores, admitida por este Tribunal no Acórdão 617/06.
É que, mesmo as fundamentações dos Acórdãos deste Tribunal sobre a matéria, admitem, em última análise, que estamos perante uma situação de ponderação de valores – o da liberdade da Mãe e o da vida do embrião (embora qualifiquem este valor da vida “em devir” como um bem jurídico de menor qualidade).
Mesmo que se admita que o primeiro, em caso de conflito, prevalece sobre o segundo, isso não significa que, mesmo nessa perspectiva, se não deva procurar o equilíbrio possível e, portanto, o menor sacrifício possível da vida embrionária – o qual, embora se entenda que não justifica o impedimento, impõe a mínima tentativa de, através da liberdade da mulher (e não contra ela) procurar salvaguardar a vida.
Sob este aspecto, e em termos de direito comparado, será importante, materialmente, a argumentação da decisão do Tribunal Constitucional alemão de 1993, que impôs o aconselhamento.
Após amplo debate e tendo pela frente os regimes resultantes da união das duas Alemanhas, foi reconhecido, naquele Aresto, que o Estado não pode demitir-se, sem mais, da protecção da vida humana.
Constituiria, essa atitude estatal, um atentado aos direitos humanos.
Além de que a prática internacional mostra que só o facto de fazer e ver a ecografia já é um factor dissuasor do aborto.
Deve-se colocar a questão de saber se também é controlada a opinião dos médicos que vão à consulta e questionar a desigualdade daí derivada.
Este sistema é mais um argumento para mostrar o inadmissível da assimetria informativa.
Ora, na Lei, não está, sequer, previsto que a entidade de aconselhamento tome conhecimento desses factos que fundamentam o pedido de aborto.
Pelo que o aconselhamento, previsto no art. 2.º da Lei 16/2007, parece atentar contra os artigos 24.º, 66.º, 67.º da C.R.P., e contra a Declaração Universal dos Direitos do Homem.
34. Mesmo no que respeita à informação, a Lei assenta na selecção da informação.
O problema a suscitar será o de saber até que ponto se justifica um regime discriminado de informação, em face dos princípios constitucionais da igualdade e da proporcionalidade (que proíbem diferenciações legais arbitrárias).
No texto da Lei para o art. 142.º, n.º 4, al. b), diz-se que a primeira consulta é “destinada a facultar à mulher grávida o acesso à informação relevante para a formação da sua decisão livre, consciente e responsável” – o que aponta, naturalmente, para a necessidade/obrigatoriedade de vir a ser prestada toda a informação relevante.
No entanto, no n.º 2 do art. 2.º do texto em análise estabelece-se, na realidade, um sistema baseado na assimetria informativa.
Essa assimetria informativa é múltipla.
Primeiro, só é verdadeiramente obrigatório proporcionar o conhecimento sobre “as condições de efectuação, no caso concreto, da eventual interrupção voluntária da gravidez e suas consequências para a saúde da mulher” (al. a)).
Mesmo que isso envolva a informação sobre as consequências para a saúde psíquica da mulher – o que já é um esforço interpretativo, mas defensável, perante a equiparação da saúde física e psíquica –, no que respeita ao embrião nada se diz, como se ele não fosse um dado relevante na formação da vontade livre e esclarecida da mulher (com consequências da sua decisão voluntária).
Depois, enquanto relativamente às condições de efectuação do aborto e suas consequências não é obrigatório prestar directamente a informação, apenas sendo necessário proporcionar o conhecimento sobre “a disponibilidade de acompanhamento por técnico social, durante o período de reflexão, sobre as condições de apoio que o Estado pode dar à prossecução da gravidez e da maternidade” (al. b)), sendo de notar que se trata de pessoa diferente daquela que poderá prestar, no mesmo período, o referido acompanhamento psicológico.
Quer isto dizer que o acesso a esta informação é triplamente indirecto:
a) não é obrigatório fornecê-la, mas, apenas, informar acerca dos meios de a obter;
b) mesmo que se escolha tê-la, não será fornecida directamente, mas através de um técnico social e
c) não é obtida directamente, mas dentro de um acompanhamento de contornos à partida indefinidos.
Ora é enorme a gravidade desta assimetria informativa, na própria perspectiva do valor constitucional que a impunidade do aborto pretende tutelar, ou seja: a liberdade de escolha da mulher.
A incompletude da informação é um meio clássico de manipulação e, nessa exacta medida, de obliteração da liberdade.
Ao contrário, na perspectiva da preservação dessa mesma liberdade, nada há a temer da pura e simples verdade.
Assim, confrontados os artigos 142.º n.º4 al. b) do Código Penal e o art. 2.º da Lei 16/2007, com o disposto nos artigos 25.º n.º1, e 27.º n.º1, da C.R.P., há-de aferir-se da constitucionalidade daqueles perante os direitos constitucionais à liberdade e proporcionalidade, que parecem feridos por aquelas normas, agora sub judice.
Por fim, o debate internacional acerca da protecção da vida humana e da sua dignidade desde a concepção tem feito correr “rios de tinta”.
É a própria comunidade científica que levanta esta questão.
Que protecção para o embrião humano?
Que usos?
Que limites à sua utilização?
Este debate teve já eco na recentemente aprovada Lei da PMA – Procriação Medicamente Assistida (cujo processo de verificação de constitucionalidade corre, também, os seus termos, desde 10 de Novembro de 2006, nesse Tribunal Constitucional), a propósito da qual o Presidente da República alertou para a necessidade de criar legislação que respeite a dignidade da vida humana.
Aqui falamos de bebés com 10 semanas.
Qual o seu destino?
Ficam dependentes das circunstâncias que ditam a vida das mães?
Quem os protege?
Um Estado Social desinteressa-se, assim, daqueles que não têm condições para ter filhos?
Um Estado Democrático desinteressa-se do ser humano?
Não há um mínimo de protecção à vida humana até às 10 semanas que seja conferida por lei?
Com o que se formulam as seguintes
CONCLUSÕES:
A) A Lei 16/2007, de 17 de Abril, carece da apreciação de Constitucionalidade, segundo critérios jurídico-constitucionais, para o que é competente este Tribunal;
B) A Lei 16/2007, de 17 de Abril, foi aprovada na sequência de um Referendo sobre a Interrupção Voluntária da Gravidez, realizado a 11 de Fevereiro de 2007, o qual não logrou obter a participação de votantes necessária para que o mesmo se revestisse de carácter juridicamente vinculativo;
C) A Constituição da República Portuguesa tem normas específicas quanto à exigência de um quórum vinculativo para que um Referendo possa legitimar uma alteração legislativa;
D) Não tendo obtido esse “quórum”, a proposta de alteração legislativa apresentada aos eleitores não colheu legitimação referendária para prosseguir;
E) O Princípio da Legalidade e do Estado de Direito implica a observância das normas constitucionais;
F) A Assembleia da República e as leis que dela emanam devem obediência à Constituição e aos Princípios Constitucionais nela fixados;
G) A Lei 16/2007, de 17 de Abril, foi publicada sem Preâmbulo, desconhecendo-se a que título (referendário ou parlamentar) colhe legitimidade;
H) A falta de uma resposta vinculativa no Referendo de 11 de Fevereiro de 2007, tem como corolário que a Lei 16/2007, de 17 de Abril, não colhe legitimidade referendária;
I) O Referendo de 1998 sobre o aborto também não foi vinculativo e por isso oito anos após, se repetiu esse mesmo Referendo;
J) A C.R.P. não admite o Referendo consultivo e o Princípio da Legalidade exige que sejam retiradas consequências de um Referendo não vinculativo;
K) A soberania reside no povo e este exerce-a (entre outras formas) através do voto, nomeadamente na escolha que faz dos programas partidários submetidos a sufrágio;
L) Os partidos que compõem larga maioria do Parlamento (PS e PSD) – nos últimos programas eleitorais com que se apresentaram a eleições legislativas – declararam que só alterariam a Lei do aborto por Referendo, assumindo, assim, que seriam o Povo a poder apontar, directamente, qual a solução legislativa desejada;
M) O mandato conferido ao actual Parlamento não legitima a alteração da Lei da Interrupção Voluntária da Gravidez;
N) A Assembleia da República, apesar de ter “legitimidade” formal, não tem legitimidade material para aprovar esta lei;
O) Numa próxima legislatura, tal sentido poderá inverter-se, desde que os Partidos que venham a colher o maior número de votos se tenham apresentado ao eleitorado propondo alterar a lei em sede da Assembleia da República;
P) Através do Referendo de 11 de Fevereiro de
Q) Ao aprovar a Interrupção Voluntária da Gravidez, nos termos fixados na Lei 16/2007, de 17 de Abril, verifica-se a violação do disposto nos artigos 2.º, 3.º, 108.º, 109.º e 115.º da C.R.P.;
R) Na sua mensagem à Assembleia da República sobre a promulgação da Lei 16/2007, de 17 de Abril, o Presidente da República alerta o legislador para alguns dos aspectos da mesma que, no seu entendimento, tangem com Princípios Constitucionais e de Legalidade;
S) A Lei 16/2007, de 17 de Abril, permite a sua regulamentação por Portaria, o que tem sido sucessivamente recusado por esse Tribunal, por ferir o disposto nos arts. 67.º n.º1 e 165.º n.º1, al. b), da C.R.P.;
T) A possibilidade de se praticar o aborto sem alegação de fundamentos, constitui o arbítrio que deixa a mulher e a criança totalmente desprotegidos, violando-se, assim, o disposto nos arts. 1.º, 2.º, 24.º, 25.º, 36.º, 67.º, e 68.º da C.R.P.;
U) A Lei 16/2007, de 17 de Abril, deixa o progenitor masculino totalmente arredado do processo de responsabilidade e processo de formação da decisão no aborto, violando-se desta forma os arts. 1.º, 2.º, 24.º, 67.º al. d) da C.R.P. e ainda o principio da igualdade fixado nos arts. 13.º e 36.º nºs 3 e 5 da CRP;
V) A objecção de consciência prevista na Lei 16/2007, de 17 de Abril, parece lesar a dignidade dos médicos, ao consagrar, no n. 2 do seu art. 6º, um tratamento discriminatório desse mesmos médicos objectores à interrupção voluntária da gravidez;
W) A informação fixada na Lei 16/2007, de 17 de Abril, como prévia ao consentimento, assenta na selectividade de informação, na assimetria informativa e triplamente indirecta, o que tange com os Princípios Constitucionais de igualdade e proporcionalidade e, assim, com o disposto nos arts. 18.º nº2, 25.º nº1 e 27.º nº1, da C.R.P.;
X) A alteração ao art. 142.º do Código Penal, introduzindo uma al. e) no seu n.º1, deixa totalmente desprotegida a vida humana até às 10 semanas, impondo ao Estado que contribua para a eliminação de vidas humanas (através, por exemplo, do SNS e das prestações sociais inerentes – art. 35.º n.º6 do Código de Trabalho), sem que para tal seja necessário alegar quaisquer razões ou fundamentos;
Y) Tal disposição atenta, assim, contra a base antropológica constitucionalmente estruturante do Estado de Direito, violando, desse modo, os arts. 1.º, 2.º, 24.º, 25.º, 26.º, 68.º nº2 e 73.º n.º2, da C.R.P. e
Z) Sendo hoje reconhecido o aborto como um acto de risco para a saúde física e mental da mulher, e dando por assente o aborto por carências económicas, o regime fixado na Lei 16/2007, de 17 de Abril, liberta o Estado da sua função de solidariedade e protecção da saúde física e psíquica, violando, assim, o disposto nos arts. 64.º n.º1 e 2, al. b), e 66.º n.º1 da C.R.P..
COM O QUE SE REQUER A APRECIAÇÃO DA CONFORMIDADE DA LEI 16/2007 DE 17 DE ABRIL,
OS DEPUTADOS,
[





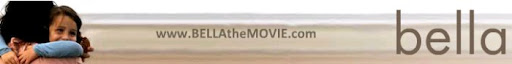
Sem comentários:
Enviar um comentário